O impasse da democracia na periferia do capitalismo
O liberalismo burguês não tem mais o que dar, e a fratura entre capitalismo e democracia dá brecha ao fascismo. Nesse contexto, Dilemas da Revolução Brasileira põe-se o desafio de “libertar a liberdade do liberalismo” e devolvê-la ao projeto socialista
Publicado 12/05/2023 às 15:42 - Atualizado 21/12/2023 às 17:05

A literatura contemporânea sobre a crise das democracias liberais tem conferido pouca ênfase aos aspectos sociológicos de longa duração que são constitutivos do fenômeno. Vejamos dois importantes exemplos. Em Os engenheiros do caos, Giuliano da Empoli (2019) destaca a importância das novas tecnologias de comunicação para o aumento da polarização política e da disseminação dos afetos do ódio e do medo, que são usados como instrumentos para a manipulação (e a mobilização) política e eleitoral. Em Guerra cultural e retórica do ódio, João Cezar de Castro Rocha (2021) centra sua análise nas táticas discursivas da retórica do ódio típicas da guerra cultural conduzida pela extrema-direita. Sem dúvida essas duas obras tratam de temas muito relevantes para a compreensão da crise das democracias liberais. Contudo, esses dois livros, e, de modo mais amplo, a produção intelectual e o debate público não estão conferindo pouco destaque à configuração social e política que possibilitou que as novas tecnologias e as táticas retóricas da guerra cultural tenham tanto sucesso em polarizar a sociedade em benefício da ascensão ideológica da extrema-direita? Para ampliar a compreensão do fenômeno, não seria o caso de promover o retorno da sociedade para o centro do debate? É o que pretendo defender a seguir, ao apresentar de modo breve o meu livro Dilemas da Revolução Brasileira: democracia contra demofobia (2022).
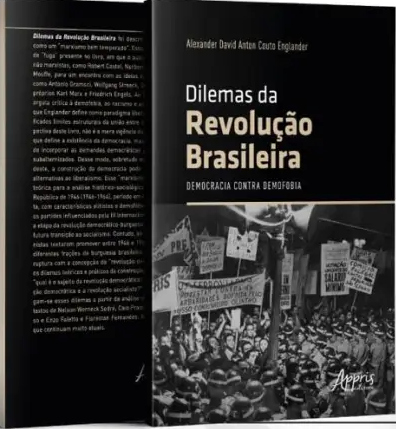
Dilemas da Revolução Brasileira foi escrito nas intersecções entre pensamento social brasileiro, sociologia do trabalho, teoria social e teoria política. Adotando uma perspectiva interdisciplinar e tendo como principal objeto de estudo o tema da revolução brasileira, esse livro busca demonstrar como a partir da periferia do capitalismo é possível aprofundar as análises críticas desenvolvidas no norte global, que apontam para o caráter contingente do encontro entre liberalismo e democracia. Chantal Mouffe (2000) defende a tese de que conflitos constantes entre princípios liberais e princípios democráticos são constitutivos das democracias liberais, possibilitando a importante conciliação (ainda que tensa e paradoxal) entre liberdade e igualdade. Recorrendo a autores diversos, como Robert Castel, Norbert Elias, C. B. Macpherson e Antonio Gramsci, exponho os limites eurocêntricos da tese de Mouffe e questiono a adequação dos princípios liberais para quem pensa e constrói a democracia para a maioria da população mundial: a classe trabalhadora da periferia do capitalismo, que habita territórios que foram colônias até os séculos XIX ou XX.
Pouco mais de uma década após Mouffe publicar The Democratic Paradox, Wolfgang Streeck (2013) lançou Tempo Comprado: a crise adiada do capitalismo democrático, livro no qual argumentou que o desencontro entre capitalismo e democracia tem razões políticas e econômicas estruturais. Para Streeck, o medo e a ganância são os afetos fundamentais do capitalismo e eles são gerados e rotinizados na esfera do mercado. De modo convincente, esse autor demonstra como o pacto keynesiano, que criou uma união estável e próspera entre liberalismo e democracia nos países do centro do capitalismo – no período pós-Segunda Guerra Mundial –, tornou-se uma ameaça para a hegemonia afetiva da ganância e do medo. Ao proporcionar crescimento econômico estável, aumento constante de direitos e pleno emprego, o pacto keynesiano estimulou a solidariedade e a coragem entre a classe trabalhadora, que em grande medida via na associação sindical, na prática das greves e no voto – em partidos comunistas, socialistas e social-democratas – uma forma de obter ganhos políticos e econômicos. Esse empoderamento proletário teria sido o principal incômodo político dos capitalistas em relação ao pacto democrático do pós-guerra, o que os levou, como classe, já nos anos 1970, a encontrar no neoliberalismo uma alternativa política e ideológica mais segura. Para compreender esse fenômeno Streeck retomou uma tese do economista marxista polonês Michal Kalecki, que afirmou que o limite do keynesianismo ocorreria devido ao seu próprio sucesso: mesmo garantindo lucros aos empresários, as políticas de pleno emprego fariam a classe trabalhadora perder o medo do desemprego, um afeto necessário para a manutenção da disciplina e da hierarquia no interior das empresas capitalistas. E, podemos acrescentar, que ao proporcionar a perda (ou a grande redução) do medo do desemprego, as políticas de pleno emprego estimulam entre a classe trabalhadora os afetos da solidariedade associativa e da coragem para o enfrentamento das hierarquias e injustiças sociais existentes na sociedade (de classe, raça, gênero, sexualidade, etnia, nacionalidade etc.). A análise de Streeck é instigante. Contudo, se recorrermos às teses da teoria da dependência poderemos identificar os seus limites eurocêntricos: por trás do pacto democrático keynesiano nos países hegemônicos do capitalismo estava a manutenção da dominação imperialista e da superexploração do trabalho nos países periféricos. Portanto, o capitalismo é demofóbico de um modo geral, mas por necessidades sistêmicas é mais demofóbico em suas periferias.
Se os chamados “anos dourados” (Hobsbawm) do pós-guerra não chegaram a existir para a classe trabalhadora do “terceiro mundo”, embora também tenham sido economicamente sustentados por ela, podemos encontrar nesse desencontro uma fronteira entre as promessas da democracia liberal e o que ela realmente fez (e faz). Enquanto as demandas democráticas puderam ser absorvidas pelos poderosos Estados de bem-estar social que se formavam no norte, as demandas democráticas se acumulavam no sul global e apenas de modo muito restrito puderam ser incorporadas pelos precários Estados de bem-estar social periféricos (se é que podemos usar o termo “bem-estar social” nesse contexto geopolítico).
É nessa quadra histórica que o Partido Comunista Brasileiro construiu a sua teoria e a sua prática da revolução brasileira, na República de 1946 (1946-1964). Nesse período, os desafios da práxis partidária e dos contextos históricos levaram o PCB a promover diversas reformulações em sua teoria e em sua prática da revolução brasileira. Os comunistas começaram a República de 1946 na legalidade, crescendo rapidamente e defendendo uma política de “união nacional”. Já em maio de 1947, o PCB teve o seu registro cassado, o que o impeliu a mudar de rota e a adotar uma política revolucionária autonomista. A cassação levou o partido a assumir uma postura de confrontação com o regime político que, no importante Manifesto de Agosto de 1950, foi classificado como antidemocrático com características fascistas. Todavia, na ilegalidade o PCB acabou caindo em uma situação de isolamento, diminuindo em tamanho e importância. Em 1954, no Programa do IV Congresso, o PCB voltou a acreditar na possibilidade de uma aliança revolucionária com a burguesia nacional, apesar de continuar menosprezando o potencial político de atuação no interior das instituições sindicais e políticas de República de 1946, ainda definidas estritamente como elitistas e demofóbicas. Em 1958, nas formulações contidas na Declaração de Março, o partido demonstrou estar consciente que pagava como preço de sua saída do isolamento político a condição de atuar a reboque das principais forças que compunham o que ele classificava como “frente democrática e nacionalista”, sobretudo, do Partido Trabalhista Brasileiro. Nesse momento, o PCB promoveu um giro na sua interpretação da República de 1946, voltando a acreditar no potencial democratizante da atuação nas instituições sindicais e políticas do regime. Apesar de ainda estar na ilegalidade e depender de outras siglas para verbalizar as suas demandas na arena político-institucional, esse foi o momento em que os comunistas estiveram mais otimistas quanto à possibilidade de construção de uma revolução democrática em aliança com a “burguesia interessada no desenvolvimento independente e progressista da economia do país” (PCB, 1958), pois os pecebistas conferiram centralidade às contradições entre forças imperialistas e forças nacionalistas. Com o avanço da política de massas assentada na aliança entre trabalhistas combativos e pecebistas, no final da década de 1950 e início da década de 1960, as contradições de classe, que na Declaração de Março eram consideradas secundárias, passam a ganhar mais importância. Em 1960, na Resolução Política do V Congresso, o PCB passou a conferir maior ênfase aos aspectos vacilantes e conciliadores (com o imperialismo) da burguesia brasileira. Um diagnóstico que foi confirmado pela história no golpe militar de 1964 e consolidado no AI-5, em 1968.
O fracasso da práxis do PCB na construção da revolução democrática no Brasil estimulou um grupo de marxistas acadêmicos da Universidade de São Paulo a criticarem as teses e as alianças políticas do partido. Contudo, as críticas de Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni e Francisco Weffort tenderam a apagar as diferenças entre as distintas fases do PCB na República de 1946, bem como minimizaram as conquistas do movimento operário nas décadas de 1950 e 1960. Em contraposição a certos reducionismos das teses marxistas uspianas sobre o “populismo”, novos/as sociólogos/as e historiadores/as do trabalho têm demonstrado as capacidades de mobilização e organização do movimento operário das décadas de 1950 e 1960, tais como Adalberto Moreira Cardoso, Antonio Luigi Negro, Fernando Teixeira da Silva, Hélio da Costa, Larissa Rosa Corrêa, Marcelo Badaró Mattos, Marco Aurélio Santana, Paulo Fontes, entre outros/as. No entanto, apesar desses problemas analíticos, as pesquisas dos marxistas uspianos do final da década de 1960 e das décadas de 1970 e 1980 conferiram maior importância à autonomia da práxis política da classe trabalhadora em relação à burguesia nativa. E, sobretudo nos textos de Florestan Fernandes, a ação política autônoma da classe trabalhadora ganhou protagonismo na construção da democracia no Brasil. Ao constatar, a partir de uma condição periférica de capitalismo dependente, o fim da era das revoluções democrático-liberais burguesas, Fernandes nos permite pensar o início de uma era em que as revoluções democráticas tendem a ter características socialistas. Para desenvolvermos o potencial dessa hipótese forte, devemos nos libertar de certos clichês do século XX, tais como “liberdade X igualdade” ou “democracia liberal X totalitarismo”. O desafio intelectual é libertar a liberdade do liberalismo. Tarefa urgente em tempos de crise do neoliberalismo e ascensão de neofascismos. Esse desafio perpassa os quatro capítulos de Dilemas da Revolução Brasileira, como um fio condutor que costura um livro escrito em perspectiva multidisciplinar.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.


Legal, Alexander. Não esqueçamos também a importante trajetória (acadêmica e militante) de nomes como Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra.
Como comprar o livro?